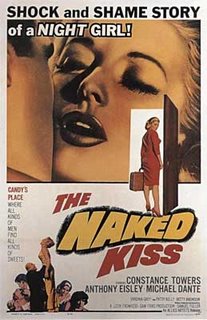Para compreender a anatomia de “Olhos sem Rosto” (Les Yeux sans Visage, França/Itália, 1959), devo procurar cada célula componente deste corpo narrativo. Para começar, cito a maneira audaciosa e brilhante que George Franju encontrou para contar uma história. Ele resolveu resgatar das covas os mais célebres defuntos artísticos, uma vez que, em plena década de 60, ele decide utilizar organicamente, em seu primeiro longa-metragem, linguagens já tidas como ultrapassadas, por isso abafadas pelo avanço. O cineasta (fundador da Cinemateca Francesa, um dos templos mais importantes da história do cinema) ao fazer “Olhos sem Rosto”, trazia à tona o surrealismo de Luis Buñuel, o expressionismo alemão (filmes mudos cujo apogeu se deu na década de 20), o horror e deformidades do teatro Grand Guignol, aspectos dos filmes de horror da Universal Pictures (a exemplo de Frankenstein [EUA,
1931, com
Boris Karloff]) e o realismo fantástico.
As inúmeras características (apresentadas acima, por facções) que foram empregadas apuradamente nesta película, dão a ela uma identidade pouco comum. Acompanhando as lentas e envolventes cenas e seqüências do filme temos a forte impressão de estarmos emersos num ambiente onírico angustiante, onde uma das principais personagens aparece flutuante e amargurada, como um fantasma errante. Daí, seguramente, eu tiro o exemplo do que seria o surrealismo (no cinema), vestindo uma roupagem de pesadelo.
Os contrastes que transcendem o preto e branco e se completam com as sombras sutis projetadas como figuras bruxuleantes; a atmosfera densa dos cômodos da casa, do porão e da floresta que circunda a mansão do Dr. Génessier (Pierre Brasseur), além do desolamento e solidão da única filha, Christiane (Edith Scob), do famoso médico, são os elementos que trazem à memória a configuração do expressionismo alemão. O responsável por este efeito é o polonês Eugen Schüfftan, que através da sua distinta direção de fotografia, explorou o ambiente, humor e contexto nos quais estavam vivendo os personagens, para enaltecer-lhes o caráter melancólico.
Numa palestra cedida pelo Dr. Génessier (em uma das primeiras cenas da película), ele apresenta aos ouvintes a notícia de que possui um estudo que, se concretizado, seria capaz de rejuvenescer ou impelir a velhice da feição das pessoas. Neste momento o médico faz um prefácio dum futuro acontecimento do filme: a sua prática secreta de enxertos. Paulatinamente, Franju surpreende os espectadores quando transfere a figura de um ilustre, rico e famoso homem, um exemplo perfeito de cidadão, para a de um pai lunático e obsessivo, um médico insano e totalmente escravo da sua vaidade intelectual. Aqui reside o cientista que, para tentar transformar o que agora é deformidade na sua ‘antiga’ filha, começa uma coleta e chacina de lindas e jovens francesas de olhos azuis e peles claras, características semelhantes às da antiga Christiane, para tirar-lhe a pele dos rostos. Ele aprisiona a sua filha, que é o seu Frankenstein, com promessas e experimentos, assim como aos cachorros que ficam agrupados no porão, próximo ao laboratório onde ele praticava os transplantes faciais.
A partir daí, surgiram em mim questionamentos inquietantes. Através duma análise do personagem central, dotado de uma grande complexidade emocional, pergunto até onde a devoção à causa da sua filha era verdadeira. Será que ele não a usava, assim como às todas outras garotas - por ele friamente assassinadas depois de usadas nos experimentos -, como cobaia humana para testar a eficácia de seus estudos? Um homem capaz de roubar a beleza, juventude e vitalidade de tantas moças não seria plenamente apto a valer-se de qualquer pessoa em prol de um bem maior que é o ‘avanço da ciência’? Neste aspecto, recorro a Samuel Fuller, que brilhantemente abordou em Shock Corridor (EUA, 1963) a cegueira dos cientistas sequiosos pelos progressos tecnológicos, que não levavam em consideração os meios, mas os fins. Apontou esses homens, como portadores de uma psicose virulenta, que acredito se emprega perfeitamente ao Dr. Génessier.
De volta às questões, será mesmo que o médico deu a sentença de morte social à sua filha com único propósito de, pacificamente, transplantar-lhe o rosto? Ou será que ele parte do pressuposto de que o rosto ausente é mais incômodo do que a ausência da menina, declarando subliminarmente que a prefere ‘antes morta, que deformada’? Este é o gancho para a apresentação dos exemplos do Grand Guignol, onde pessoas com deformidades físicas eram tidas como peças de exibição e terror nos palcos deste teatro, na primeira metade do século XX, em Paris. As notáveis cenas nas quais há a exemplificação da prática do Grand Guignol são: a cena turva na qual Christiane retira a sua máscara de porcelana, deixando a mostra seu rosto desfigurado; e a longa seqüência, sem cortes, da operação facial, a qual mostra detalhadamente a retirada cirúrgica do rosto de uma vítima.
Pedindo permissão para usar as características deste teatro de forma psicológica, eu diria que a neutralidade com que Dr. Génessier encara um cemitério a noite, portanto em seu colo um corpo recém-morto para enterrá-lo, como se fosse um saco cheio de entulho, pode ser considerado como uma deformidade comportamental. O realismo fantástico somado ao Guignol aborda, entre outras coisas, a zoomorfização ou coisificação do ser humano, quando mostra o médico usando cobaias vivas (tanto as moças parisienses, dentre elas, a sua própria filha, quanto cachorros que ficam trancafiados em pequenas jaulas) para experimentos científicos. As vítimas são logo descartadas (a exceção de Christiane, por motivos óbvios) na corrente do rio, em saltos da janela ou através de uma injeção letal quando constatado que os experimentos foram falhos.
Em “Olhos sem rosto” ainda se configuram duas linguagens cinematográficas, bem comuns em Hollywood, que são o thriller e o terror. O filme se encontra emerso numa trama policial, cujo objetivo é descobrir o desaparecimento de moças parisienses que possuem um mesmo perfil físico. Será que um serial killer está atemorizando as redondezas de Paris? Ironicamente, o único insuspeito era o verdadeiro assassino, o homem que a força policial da cidade procurava mas que, além de não o encontrar quase aumentava a lista de vítimas do frio executor. Franju busca a neutralidade da realidade, prescindindo dos protótipos ou esquemas-padrões de personagens para adicionar o horror na sua película. O diretor acredita que o terror está na vida cotidiana e é a partir do mistério do real que ele, ‘o cineasta demoníaco’(segundo Godard) busca a inspiração para o seu terror. “Em Les Yeux Sans Visage, como na obra de Kubrick, o assustador nunca surge de um saber que ainda não é conhecido, mas daquilo que é por demais conhecido, de um conhecimento a mais que ocasiona desastres” (Ruy Gardnier).
O realismo fantástico também se apresenta na exposição de temas muito avançados para a época em que vivia George Franju. O cineasta fala da ditadura da beleza, ou seja, fala (nas entrelinhas) de como as pessoas desejam alcançar o padrão socialmente fixado do belo. Premedita o quadro de atitude estética dos tempos hodiernos: a beleza e juventude a qualquer custo, o que, em outras palavras, é a submissão em larga escala às cirurgias plásticas. George também aponta o incômodo que o feio causa (este ponto já fora discutido no parágrafo sobre o Guignol). Numa dimensão ainda mais enraizada das ações brutas do homem, Franju usa a cena final do seu filme para dizer que, nos dias vividos, a liberdade só pode ser conquistada por intermédio da morte e da loucura, aqui (de acordo com a minha interpretação) é uma referência às guerras e seus efeitos político-sociais. Trazendo para a linguagem do filme, isso equivale a dizer que Christiane, para tornar-se livre, precisava eliminar os seus opressores, uma vez que ela é carcereira de si, do seu pai e suas experiências, da sua vaidade, da sua liberdade e, sobretudo, da máscara de porcelana. Tomada pelo desejo sufocado, ela liberta a todas as cobaias (inclusive a si mesmo) e, depois de ‘matar’os assassinos, dança na noite celebrando o levantar de asas tardio.
Além das características do Realismo Fantástico (citados durante o texto) as premeditações feitas pelo diretor, o casamento dos mais diferentes movimentos cinematográficos – tanto em relação a linguagem, quanto a época, narrativa, contextos e abordagens –europeus e norte-americanos, a abordagem da universalidade humana onde a vaidade (física, emotiva, de status e profissional) é o assunto em pauta e, por fim, o maduro trabalho de câmera fazem com que “Olhos sem rosto” abrace para si todos os sinônimos que fantástico (arrebatador, delirante, excelente, extraordinário, magnífico, prodigioso e maravilhoso) possui.